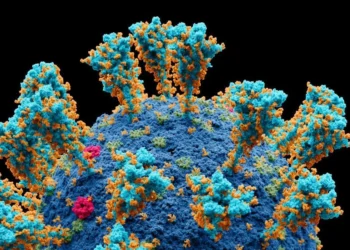A mais recente decisão da Corte Constitucional sobre a legitimidade da obrigação vacinal Covid e do Green Pass trouxe à tona um debate que vai além do tribunal: toca a dignidade de quem relatou efeitos adversos ou perdeu entes queridos após a vacinação. A sentença nº 199, proferida em 23 de dezembro, avalizou medidas que, aos olhos de muitos, parecem converter um direito individual em sacrifício quase obrigatório em favor do bem coletivo.
O caso que motivou a decisão refere-se a duas funcionárias públicas sicilianas suspensas do pagamento dos seus salários por não terem cumprido as normas relativas à vacinação e à certificação. A Corte argumentou que a imposição visou “tutelare la salute pubblica” e garantir condições de segurança na prestação de cuidados, protegendo os mais vulneráveis e evitando a sobrecarga hospitalar. Em suma: sem soro, sem salário — uma fórmula radical que reabre questões fundamentais sobre liberdade e responsabilidade pública.
Conversei com o professor Carlo Iannello, constitucionalista e docente da Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, que coloca em perspetiva jurídica o alcance dessa interpretação. Para ele, a Corte tentou ajustar o princípio jurídico à realidade fática da pandemia. No entanto, essa aproximação — ainda que compreensível no contexto da emergência — acaba por desfazer o fundamento tradicional do obrigo vacinal, que historicamente se baseia na prevenção da transmissão, e não na garantia de funcionamento dos serviços públicos a qualquer custo.
Há outra seara, igualmente delicada, que esta decisão parece negligenciar: a das comunicações transparentes sobre riscos. Nos últimos anos, fabricantes atualizaram fichas técnicas e órgãos reguladores reconheceram a existência de causalidades, pelo menos em parte, entre vacinas e determinadas reações graves. Mesmo assim, percebo um silêncio institucional sobre as consequências concretas para famílias que viveram perdas ou sofreram danos — um silêncio que contrasta com a retórica da proteção coletiva.
Como observador atento das interações entre clima, saúde e cotidiano, sinto essa discussão como uma paisagem outonal em que as folhas que representam liberdades individuais caem uma a uma diante da ventania da emergência sanitária. Não é uma negação da necessidade de proteger comunidades; é antes um apelo para que a proteção não sacrifique a escuta e a reparação de quem ficou pelo caminho.
Do ponto de vista jurídico, político e humano, a sentença levanta pontos cruciais:
- A prevalência do interesse coletivo sobre o individual e seus limites constitucionais;
- A relação entre a prevenção do contágio e a manutenção da funcionalidade dos serviços de saúde como fundamento do poder punitivo/administrativo;
- A necessidade de reconhecimento público e assistência para vítimas de efeitos adversos e de diálogo transparente sobre riscos;
- A dimensão da dignidade humana frente a medidas que resultam em punições econômicas ou sociais.
Não é só uma disputa técnica: é um debate sobre como queremos habitar a comunidade, sobre a respiração íntima do corpo coletivo e do corpo individual. A Corte, ao optar por uma leitura que legitima a coerção em nome da proteção, deixa no ar a pergunta — que não pode ser varrida para baixo do tapete jurídico — de como amparar quem sofreu e como assegurar que a urgência jamais cancele a dignidade.
Ao fechar esta reflexão, lembro que as decisões que moldam o cotidiano de uma nação são como estações: definem colheitas de hábitos e deixam sementes para as próximas primaveras civis. Que ao menos brote, desse outono legal, a consciência da necessidade de cuidar dos que adoeceram e de escutar o corpo social com mais atenção.