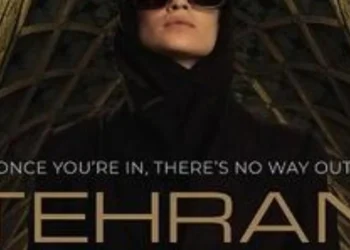Irã, Israel, Mossad, B-2: são termos que voltam a dominar manchetes e salões de decisão. Como analista de geopolítica, observo este momento como um movimento no tabuleiro onde força bruta e narrativa estratégica disputam a iniciativa. Ninguém sensato nega que o regime iraniano representa um problema grave para a estabilidade regional. Mas tampouco é plausível acreditar que uma nova campanha militar — mesmo combinando operações encobertas e poder aéreo — traria automaticamente liberdade aos iranianos ou paz duradoura ao Oriente Médio.
A narrativa dominante em parte de Israel sustenta que a grande operação de junho, denominada Operação Rising Lion, foi um sucesso decisivo: o programa nuclear iraniano teria sido afetado, líderes importantes eliminados, defesas aéreas profundamente fragilizadas e metade do arsenal de mísseis balísticos do país supostamente destruído. Relata-se que cerca de 900 alvos foram atingidos em aproximadamente 5.100 surtidas. No entanto, sete meses depois, o debate público e os círculos de decisão já consideram a necessidade de uma nova ofensiva.
Se a primeira operação de fato alcançou resultados tão abrangentes, surge a pergunta lógica e incômoda: por que seria necessária uma segunda investida? E se, por outro lado, Rising Lion não atingiu os objetivos declarados, onde está a evidência de que uma repetição produzirá resultados superiores? Ou seja, estamos diante de um problema de eficácia das ações empregadas ou de um objetivo estratégico mal definido?
Na anatomia das grandes decisões externas, há situações em que a guerra é inevitável; há outras — mais raras — em que os benefícios superam custos materiais e políticos. Uma operação americana ou conjunta não parece hoje enquadrar-se em nenhuma dessas categorias com clareza. O custo potencial é elevado e o benefício palpável reservado. Ainda assim, a opinião pública israelense, e boa parte de sua classe política, demonstram forte inclinação por um novo conflito, independentemente do balanço custo-benefício.
Há, contudo, objetivos políticos distintos que podem explicar o impulso por uma nova ação militar, embora não justifiquem moralmente a decisão: a necessidade de reafirmar credenciais de segurança diante do eleitorado; a busca por uma narrativa que reconfigure alianças; ou a tentativa de criar uma ruptura estratégica que redesenhe — mesmo que temporariamente — eixos de influência na região. Em termos de Realpolitik, são movimentos que visam influenciar cartas no tabuleiro sem, necessariamente, resolver a matriz estrutural do problema iraniano.
Outro fato relevante é que nem a destruição de plataformas militares nem ações clandestinas garantem a transformação de regimes. A sobrevivência do regime iraniano é um fenômeno que tem raízes internas, históricas e sociais que uma campanha externa dificilmente erradicará. A dissociação automática entre provocar danos militares e produzir liberdade política é uma ilusão que a história já demonstrou com frequência.
Portanto, do ponto de vista estratégico e da estabilidade regional, a questão central não é apenas se Israel ou os Estados Unidos podem atacar com maior intensidade, mas por que se optaria por um novo choque cujo retorno é incerto. A decisão de avançar por vias militares deve ser pesada contra o desenho mais amplo: custos humanitários, escalada com atores regionais, impacto na economia global e a erosão dos alicerces da diplomacia.
Como em um jogo de alto nível, onde cada peça sacrificada altera composições futuras, é mandatório perguntar qual é o fim político real buscado por uma nova operação. Sem uma resposta clara e realista, o aparato militar se torna espetáculo ao invés de instrumento de transformação duradoura. E espetáculo, por sí só, raramente constrói paz.