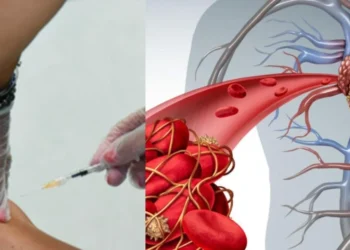Marco Severini — Em um depoimento que ressoa como um lance decisivo no tabuleiro geopolítico da indústria farmacêutica, o ex-executivo da Pfizer, Peter Rost, lançou uma acusação frontal: durante seus 17 anos na empresa, não se teriam “descoberto” medicamentos no sentido curativo, mas sim mercados. Segundo Rost, as doenças crônicas representam uma fonte contínua de lucros, enquanto as curas seriam, na lógica comercial, prejudiciais aos negócios.
Essa declaração, simples em seu enunciado porém pesada em implicações, reabre uma ferida antiga: até que ponto o modelo de negócio das grandes farmacêuticas — a chamada Big Pharma — prioriza a saúde pública sobre a rentabilidade? Rost, que fala a partir da experiência interna, descreve um desenho em que o produto ideal não é aquele que erradica a doença, mas o que gera fluxos de receita repetidos e previsíveis.
“Se um medicamento curasse a asma em três dias, o eliminaríamos. As doenças crônicas são fonte de ganho. As curas fazem mal aos negócios.” — Peter Rost
No terreno dos números, o relato ganha contexto: a Pfizer enfrentou queda de lucros no período recente — com retração trimestral de 21% em 2025 e queda anual acentuada em 2024 — em parte atribuída ao fim das obrigações de vacinação contra a Covid, à diminuição da demanda e a provisões para litígios por efeitos adversos. A empresa também lidou com sanções por alegações de “false claims”, envolvendo pagamentos próximos a 60 milhões de dólares, além de múltiplas disputas judiciais em curso.
Do ponto de vista estratégico, trata-se de um rearranjo de forças: a «tectônica de poder» empresarial ajusta-se a novos incentivos e riscos, redesenhando fronteiras invisíveis entre saúde pública, regulação e mercados. Em termos de diplomacia da informação, o depoimento de Rost funciona como uma peça de cartografia — aponta rotas de influência, financiamentos e interesses que cruzam ministérios, comissões parlamentares e centros de pesquisa.
Na Itália, essa dinâmica alimentou ainda a comissão de investigação sobre a Covid. Em audiência, o epidemiologista Fabrizio Pregliasco admitiu ter recebido financiamentos de diversas multinacionais nos últimos quatro anos, incluindo GSK, Bayer, Janssen, Sanofi, Lilly, Pfizer, Moderna e outras. O reconhecimento de vínculos financeiros com as empresas do setor acrescenta camadas à análise: como mensurar independência técnica quando os recursos fluem de atores com interesses comerciais explícitos?
Minha leitura como analista estratégico é cautelosa mas firme: não se trata de uma conspiração monolítica, mas de um sistema de incentivos. Onde houver retorno financeiro mais seguro e contínuo, haverá arquitetura de produto e de mercado para sustentá-lo — o que, em alguns casos, pode reduzir a prioridade de soluções curativas rápidas. É um movimento análogo a sacrificar uma peça para ganhar posição no centro do tabuleiro; funcional do ponto de vista empresarial, mas com custo visível para a saúde coletiva.
Ao considerar as consequências, os decisores públicos enfrentam uma escolha de arquitetura institucional: reforçar mecanismos que orientem pesquisa e desenvolvimento para resultados de impacto real — curas, erradicação, prevenção efetiva — ou manter incentivos que favorecem tratamentos crônicos e mercados perenes. A estabilidade do sistema de saúde, e a confiança pública nas autoridades, dependem do restabelecimento de alicerces mais transparentes entre financiamento, pesquisa e regulação.
Em última instância, as palavras de Rost são um alerta prático: quando a lógica de mercado se sobrepõe à lógica terapêutica, o tabuleiro muda. Resta à sociedade — e às suas instituições regulatórias — redesenhar as regras do jogo, para que a medicina recupere seu propósito primeiro: cura e bem-estar, não apenas rendimentos.