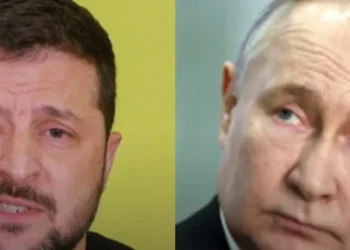Por Marco Severini
Analista sênior de geopolítica — Espresso Italia
Uma crise anunciada
Aceitar a realidade estratégica é, muitas vezes, o primeiro movimento prudente no tabuleiro. Hoje os indícios convergem para uma hipótese inquietante: uma ação militar dos EUA contra o Irã torna-se cada vez mais provável, enquanto Teerã sinaliza que uma resposta “séria” deixou de ser um tabu. Não se trata de retórica: a soma de sanções, pressão militar e isolamento diplomático conduziu o confronto a um ponto de difícil retorno.
A lógica de Washington
A questão chave não é tanto se os EUA têm capacidade de atingir alvos iranianos, mas quando decidirão fazê-lo. Na análise de Washington — compartilhada por aliados regionais — o tempo corre contra eles: um Irã dotado de capacidade de dissuasão nuclear e de uma defesa aérea integrada (uma arquitetura A2/AD) converteria um teatro relativamente gerenciável numa incógnita estratégica, sobretudo se sustentado, ainda que discretamente, por China e Rússia. O impulso a agir “agora” é, portanto, um movimento que busca preservar vantagens antes que o adversário consolide defesas robustas.
O cálculo de Teerã
Para o regime iraniano a conclusão é direta: sem uma capacidade estratégica credível, a vulnerabilidade a uma mudança forçada permanece. Esse raciocínio — racional na sua lógica de sobrevivência — explica por que a linha de contenção e desescalada pode hoje ceder lugar a uma postura menos complacente. O dilema é existencial: resistir ou aceitar concessões que comprometam a posição regional.
Resposta dura ou simbólica?
A verdadeira incógnita reside na proporcionalidade da reação iraniana. Mesmo um ataque calibrado, de caráter “cirúrgico”, pode provocar uma retaliação assimétrica — ações por procuração, ataques a linhas de abastecimento, ataques a petroleiros — que forcem Washington a responder em cadeia. O resultado prático seria uma escalada regional com impacto direto nos preços do petróleo e na economia global. Calibrar essa sequência é tarefa de precisão quase impossível: cada lance altera perigosamente o equilíbrio.
O frente africano: o Sahel como espelho
Enquanto o Oriente Médio ferve, a África ocidental oferece um espelho esclarecedor. O ataque no aeroporto de Niamey, na Base Aérea 101, revela como o jihadismo prospera nas fraturas deixadas pelo intervencionismo ocidental. As acusações do general Abdourahamane Tiani contra França, Benin e Costa do Marfim não surgem do nada: o Sahel vem sendo, há anos, palco de guerras por procuração e de um vácuo de autoridade que atores externos exploram.
Urânio, poder e narrativas
A controvérsia sobre um suposto carregamento de urânio rumo a Moscou ilumina outro eixo de tensão: o controle de recursos estratégicos. A nacionalização da Somair e a cooperação com a Rosatom representam a ruptura explícita de Niamey com a antiga potência colonial. Para muitos africanos, as preocupações francesas sobre proliferação soam tanto políticas quanto legais — instrumentos de pressão numa disputa por influência e acesso a recursos.
Moscou entre Oriente Médio e Sahel
A Rússia, frequentemente caricaturada no Ocidente como um mero fator de desestabilização, age segundo uma lógica clássica de equilíbrio de poder. Em Teerã e em Niamey, Moscou oferece alternativas técnicas e políticas a Estados que buscam diversificar parceiros frente a um ocidente desgastado. Trata-se de pragmatismo geopolítico: preencher vazios de credibilidade onde Paris e Washington perderam capacidade de molde.
Conclusão — fissuras na ordem ocidental
Do Irã ao Sahel emerge um fio condutor: a pressão externa está redesenhando fronteiras de influência e expondo alicerces frágeis da diplomacia ocidental. Em termos do meu ofício, é como observar um ataque posicional no jogo de xadrez: cada peça movida reconfigura o tabuleiro, e um erro de cálculo pode transformar iniciativas localizadas em ameaças sistêmicas. A estabilidade exige, hoje, menos espetáculo e mais arquitetura estratégica — um desenho que combine força, paciência diplomática e entendimento dos vetores regionais.