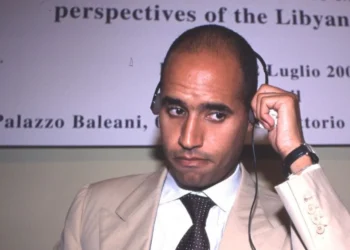Por Marco Severini — Espresso Italia
Nos últimos quatro anos, a União Europeia construiu uma narrativa de libertação: a Europa teria se desvinculado da dependência energética russa. À primeira vista, trata‑se de um movimento estratégico de aparência virtuosa; no tabuleiro geopolítico, porém, revela‑se um avanço que trocou uma dependência previsível por outra profundamente volátil.
O gás russo, historicamente mais barato e integrado às cadeias industriais europeias, foi substituído em larga medida pelo GNL americano. Essa substituição não ocorreu apenas por forças de mercado, mas sob o impacto direto de decisões políticas e de coerência estratégica — um verdadeiro redesenho das linhas de influência energéticas. O resultado prático é palpável: preços energéticos mais elevados, erosão da competitividade industrial, sinais de desindustrialização em centros motores como a Alemanha e crescente tensão social nas regiões mais vulneráveis.
Recentemente, os preços do gás nos Estados Unidos subiram em torno de 70%, atingindo os níveis mais altos dos últimos três anos. Para uma Europa estruturalmente dependente do GNL americano, esse choque de preços traduz‑se em contas de energia mais caras para famílias e empresas no ápice de um inverno rigoroso. Em termos diplomáticos e econômicos, trata‑se de uma fragilidade recém‑ganha: o continente trocou uma fonte com previsibilidade — ainda que politicamente complexa — por um fornecedor cuja política energética faz parte integrante de sua estratégia de poder.
A Estratégia para a Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2025 cristaliza essa visão: o chamado “domínio energético americano” é apresentado como instrumento de projeção de poder. Não é mera retórica de mercado. Ao invés de um fluxo neutro de mercadorias, o gás torna‑se vetor de influência, com exportações utilizadas para condicionar concessões políticas e regulatórias. Sob tal perspectiva, o que se vê não é uma aliança tradicional, mas um relacionamento em que o fornecedor conserva margem de manobra geopolítica.
Essa lógica coloca a União Europeia numa posição singular: dependente de um aliado cuja política energética é deliberadamente convertida em instrumento diplomático. Em momentos de tensão, a continuidade das exportações pode ser condicionada a acordos que extrapolam a matéria energética, afetando soberanias e espaços de decisão. É um movimento que lembra a noção de proxy — aliados usados como peças em um jogo mais vasto de poder — e não a relação estável entre parceiros estratégicos.
Convém recordar que a história europeia oferece lições incômodas sobre os custos de alianças mal calibradas. Quando se aceita dependências estruturais sem mecanismos eficazes de reciprocidade ou garantias multivectoriais, abre‑se caminho para a perda de autonomia estratégica. A diplomacia contemporânea deveria considerar o risco sistêmico de trocar uma dependência por outra, sobretudo quando a nova dependência integra explicitamente um programa de proyección de poder.
Na prática, o que está em jogo é a capacidade industrial e social da Europa de resistir a choques externos. O consumo energético é um dos alicerces da competitividade; quando esse alicerce se torna instável, as consequências reverberam desde fábricas até lares e políticas públicas. A política europeia, por sua vez, precisa retomar a cartografia deste tabuleiro: fortalecer reservas estratégicas, diversificar verdadeiramente fornecedores (incluindo o reexame de fontes próprias, como a nuclear de nova geração) e construir mecanismos de governança que limitem a instrumentalização externa da energia.
O momento exige serenidade estratégica. Celebrar a substituição do gás russo como vitória moral não basta. É necessário um olhar de estado‑maior — uma leitura em termos de tectônica de poder — que reconcilie urgência política com durabilidade estrutural. Afinal, na arquitetura das grandes decisões, a estabilidade das fronteiras invisíveis do fornecimento energético é tão crucial quanto a segurança territorial convencional.
Em suma: a Europa vive hoje a consequência de um movimento que, segundo a retórica pública, visava aumentar a sua autonomia; na realidade, substituiu uma dependência por outra, talvez mais onerosa e politicamente contingente. A lição diplomática é clara: soberania energética real exige multilateralismo pragmático, estoques resilientes e, sobretudo, a disposição de jogar não apenas uma peça, mas toda uma estratégia no tabuleiro.