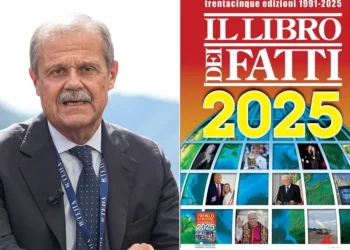Os colóquios entre EUA e Irã, que nas últimas 24 horas pareciam ter desabado diante das recusas da Casa Branca quanto a local e agenda, receberam um inesperado sopro de vida: foram reconfirmados para a próxima sexta-feira, 6 de fevereiro. O restabelecimento das conversações decorre, em grande medida, do intenso pressing exercido pelos principais Estados Árabes — e pela Turquia — que advertiram sobre o risco de uma escalada capaz de desestabilizar todo o Médio Oriente.
Até ontem, os contactos pareciam arquivados depois que Teerão exigiu que as sessões fossem realizadas em Omã e que o seu formato fosse estritamente bilateral e circunscrito à temática nuclear, excluindo disputas sobre mísseis balísticos, forças militares e segurança regional. A resposta americana foi inicialmente intransigente: a Casa Branca rejeitou a mudança de sede e recusou limitar a pauta, gerando um impasse que levou fontes internas a afirmar que “ou se fazia assim ou nada”.
No entanto, a tática do tabuleiro diplomático sofreu um ajuste: por receio de um efeito dominó regional — e após interlocuções com monarquias e capitais árabes — Washington voltou a aceitar negociar. Os encontros estão, novamente, marcados para 6 de fevereiro, com possibilidade de sessões bilaterais secretas em Muscat, sob arranjo logístico omani. Trata-se de um movimento cauteloso, não de um ato de confiança plena: os alicerces desta mediação continuam frágeis.
Do lado americano, as retóricas permanecem duras. Trump dirigiu-se à liderança iraniana, afirmando que o Supremo Líder Khamenei “deveria estar muito preocupado”. Em tom de advertência, o ex-presidente evocou episódios passados — referindo-se aos ataques a sítios nucleares do ano anterior — e prometeu que, se um acordo justo não for alcançado, “acontecerão coisas muito ruins”. É uma linguagem que combina pressão estratégica e espetáculo retórico; no entanto, num tabuleiro onde cada peça tem o potencial de desencadear reações em cadeia, tais palavras têm peso concreto.
Enquanto isso, Tel Aviv continua a fazer lobby por uma resposta militar contra o que classifica como a “fortaleza” da resistência iraniana, incrementando o risco de confrontação. Nos corredores da região, circulam ainda sinais de mobilização de grupos aliados de Teerão: rumores indicam que a milícia iraquiana Kata’ib Hezbollah prepara-se para um eventual conflito, enraizando a tensão numa camada adicional de imprevisibilidade.
Do ponto de vista político interno dos EUA, vozes de cautela pontuam o debate. O senador Rubio declarou, com franqueza realpolitista, que “não sou seguro de que vamos alcançar acordos” — uma sentença que expõe a incerteza das negociações e sublinha que a reabertura do canal não equivale automaticamente a sucesso diplomático.
Em termos estratégicos, o que está em curso é um redesenho sutil das fronteiras de influência: não se trata apenas de discutir tecnicalidades nucleares, mas de gerir um equilíbrio de forças cuja tectônica pode redesenhar alianças. A presença omani como anfitrião segue a velha prática da diplomacia do santuário — um tabuleiro neutro onde estados rivais buscam convergência mínima sem ceder todo o terreno.
As próximas 48 horas serão decisivas para aferir se este movimento será apenas mais um lance tático ou o início de uma trajetória negociada. A cautela é imperativa: no xadrez geopolítico do Médio Oriente, cada avanço é ao mesmo tempo um cálculo e uma armadilha.