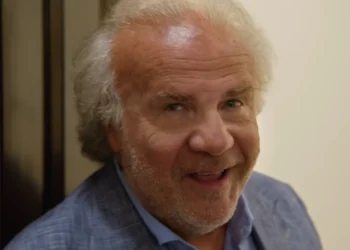Depois de uma partida acalorada de futebol — eu, nostálgica, ainda torço pelo Toro — nada melhor do que afundar no sofá e assistir a um antigo episódio de Colombo (disponível em Top Crime e Prime). Há algo reconfortante e ao mesmo tempo inquietante em ver aquele detetive de impermeável amarrotado desmantelar, com jeito humilde e cerebral, os esquemas dos que se julgam fora do alcance da lei.
Peter Falk (1927-2011) emprestou ao personagem uma mistura perfeita de casualidade e perspicácia: o Tenente Colombo é um investigador da Divisão de Homicídios de Los Angeles, com claras origens italianas, embora goste de brincar que seu nome é simplesmente “Tenente”. A estrutura dos episódios é quase ritualística: a audiência presencia, no início, um crime aparentemente perfeito — e sabe quem é o autor. O prazer não está no mistério de quem, mas no modo como Colombo, com suas perguntas incômodas, vai enfraquecendo a vida construída pelo culpado até forçá-lo ao erro.
Claudio Giunta, em seu ensaio sobre Colombo (presente em Il pop e la felicità, Mondadori), observa que o tenente raramente persegue bandidos de profissão. Seus alvos são figuras do jet set de Los Angeles: “gente simpática, culta, respeitável até o momento do crime”. Vestidos sob medida, moradores de vilas modernistas, aficionados por vinhos caros — opõem-se ao detetive de Peugeot surrada, impermeável desbotado e refeições simples. É, como disse Umberto Eco, o duelo entre o pigmeu e o gigante de pés de argila: o público se satisfaz por ver alguém modesto punir o ostentoso.
Essa dinâmica funciona como um reframe do nosso imaginário: o roteiro oculto da sociedade mostra que a moralidade não mora nas vitrines do sucesso. Mas a pergunta que fica, como uma cena que ecoa após os créditos, é se ainda queremos, hoje, nos reconhecer em figuras modestas como Colombo. Os antagonistas clássicos — os malfeitores arrogantes e aparentemente intocáveis — nos parecem tão culpáveis diante do contexto contemporâneo?
Vivemos uma era em que os inimigos públicos assumem outra forma. Não são mais apenas os poderosos com crimes bem camuflados por etiqueta social; são indivíduos que, por riqueza, influência ou posição, acreditam estar acima da lei. E essa sensação de impunidade remete, sem esforço, a figuras políticas e midiáticas recentes — pense-se no estilo e na retórica de Donald Trump — que consolidam uma espécie de intocabilidade formal e simbólica.
Ver Colombo hoje é, portanto, mais que nostalgia: é um espelho do nosso tempo. A série nos lembra que o combate à impunidade não é apenas policial, mas também simbólico e cultural. O detetive de impermeável representa um desejo coletivo de ver a justiça aplicada mesmo quando os acusados se escondem atrás da cortina do prestígio. Ao mesmo tempo, suscita inquietações: em que medida nossa fé em figuras modestas permanece viva quando o poder redefine regras à própria imagem?
Assistir a um episódio é, assim, praticar uma pequena arqueologia moral — reconhecer os artefatos do status, desarmar a performance do respeito e, no final, testemunhar a queda do personagem que se julgava intocável. É essa combinação de entretenimento e vigilância cultural que mantém Colombo relevante: não apenas uma série de televisão, mas um estudo sobre como nós, como sociedade, escolhemos identificar e punir os que se creem acima do bem e do mal.