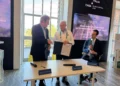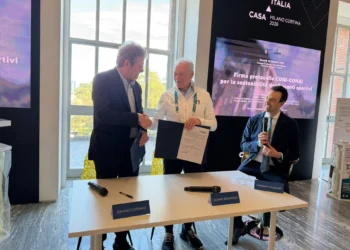Por Chiara Lombardi — Na Berlinale, Juliette Binoche volta a nos confrontar com o íntimo e o coletivo em Queen at Sea, filme de Lance Hammer que coloca a doença e a culpa no centro de um drama cotidiano. A atriz interpreta uma mulher de meia-idade, mãe solteira, que cria uma filha adolescente enquanto tenta cuidar da própria mãe, vítima de Alzheimer. Os olhos azuis da idosa, “afogados na ausência”, permanecem como uma imagem que não se apaga.
O filme se passa em uma Londres contemporânea de habitações populares e lares de acolhimento, onde a neblina urbana apenas intensifica a sensação de abandono. Há cenas que parecem saídas do realismo social britânico — um eco de Ken Loach — mas sem o gesto militante; a câmera prefere esculpir a penumbra moral que envolve a doença e as decisões que ela impõe.
Binoche confessa que o projeto tocou uma corda pessoal: houve um período em sua vida em que ela viveu exatamente essa tensão de estar entre a educação dos filhos e o declínio dos pais. “É como estar entre dois rochedos: menos mobilidade, menos independência”, diz a atriz, e é essa fragilidade que o diretor quis capturar. As gravações chegaram a ser adiadas por uma semana para que a equipe pudesse ancorar uma instabilidade emocional real — uma estratégia deliberada para que a sensação de ruptura estivesse sempre à superfície.
A dinâmica familiar no filme é complexa. A mãe idosa parece alvo de um comportamento ambíguo por parte do marido mais jovem — há uma suspeita de abuso sexual, mas a narrativa revela que o sentimento entre os dois é de carinho. Essa ambivalência força a protagonista a confrontar não só a ética das ações, mas os seus próprios sensos de culpa por anos de ausência. Quem decide quando a capacidade de escolher se perde? O cônjuge, o filho, a instituição pública?
Em sua economia narrativa, Queen at Sea transforma o particular em um espelho do nosso tempo: fala da solidão que a memória perdida instala, da impotência de quem permanece, e da falibilidade dos sistemas de assistência social que deveriam proteger e, muitas vezes, se mostram insuficientes. O filme não promete cura; ao contrário, propõe uma pedagogia do encontro com a doença — uma oportunidade para nos interrogarmos sobre como vivemos e como cuidamos.
Filmes sobre o Alzheimer já nos apresentaram dilemas morais semelhantes, e este novo trabalho se soma a uma linhagem que não elimina a doença, mas nos ajuda a compreendê-la e a sentir-nos menos isolados. Cada história é singular, mas existe um tema recorrente: a tomada de decisões em nome de quem perdeu a voz, e o peso ético desses atos.
Como observadora do zeitgeist, vejo em Queen at Sea um roteiro oculto da sociedade contemporânea, um estudo sobre como estruturas públicas, afetos privados e memórias em dissolução se cruzam num mesmo cenário de transformação. É um filme que pede silêncio, atenção e, sobretudo, compaixão.