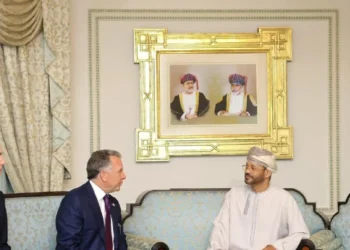Sabado, 07 Fevereiro 2026
Sou Chiara Lombardi, para Espresso Italia — e convoco aqui uma curiosidade sofisticada: olhar para a atual revolução militar como se assistíssemos a uma sequência que reescreve o roteiro da guerra. Nos últimos séculos, os inícios de um novo século frequentemente carregaram o passado como um cenário já pronto. A diferença hoje é que o futuro tecnológico não é um figurante: é o protagonista que toma o palco.
No campo de batalha contemporâneo, a transição é radical. O que antes pertencia à ficção – exércitos comandados por algoritmos, cascos de aço autônomos – tornou-se operacional. A velha imagem dos soldados em carne e osso e dos aviadores heróicos cede espaço a sistemas dominados por IA e robótica. É um reframe da realidade com consequências estratégicas, éticas e culturais.
A aviação militar ditou a rota dessa transformação. Se os drones controlados remotamente já eram presença constante, a novidade são os caças de sexta geração e os chamados Loyal Wingmen: aeronaves sem piloto que escoltam e expandem as capacidades de esquadrões tripulados. A retirada do humano do cockpit promete ganhos objetivos: manobras que superam limites fisiológicos (adeus ao problema dos 9g), projeto estrutural otimizado (sem cockpit, sem assento ejetável) e maior furtividade e autonomia. A consequência é uma força aérea pensada como um conjunto de sistemas cooperativos — e não apenas de indivíduos.
No terreno, os tanques também passam por uma metamorfose. Torres automatizadas e plataformas sem tripulação reduzem a exposição humana e tornam os veículos menores e mais difíceis de atingir. Mas há um efeito colateral social e político: a perda de vidas humanas diretas transforma danos de campanha em meras estatísticas logísticas, deslocando o debate público sobre legitimidade e custo da guerra.
O setor mais sensível continua sendo o das armas autônomas (LAWS). A promessa de precisão e eficiência esbarra em riscos palpáveis: falhas de identificação, decisões éticas delegadas a caixas pretas algorítmicas e a possibilidade de escalada automática em cenários conflituosos. A dependência crescente de sistemas conectados também amplia a superfície de ataque cibernético: derrubar, subverter ou corromper uma cadeia de comando automatizada pode ser tão devastador quanto abater um tanque.
Nesse contexto, termos como MOLTBOOK e o fantasma cultural do “TERMINATOR” circulam como metáforas e alarmes. MOLTBOOK, seja ele plataforma, projeto ou rótulo midiático, simboliza a facilidade com que ferramentas digitais — antes confinadas a laboratórios — podem ser reapropriadas para fins militares. Já o medo do “Terminator” funciona como uma emblemática hipérbole: não se trata apenas de máquinas que se voltam contra a humanidade, mas de um roteiro mais sutil e perigoso, em que a automatização reduz os freios políticos sobre o uso da força.
O ponto nevrálgico é político e civilizacional: a IA militariza decisões que antes exigiam responsabilidade humana. Isso altera a cadeia de responsabilização e empurra a guerra para uma lógica industrial em que vencer pode significar simplesmente produzir mais e melhor — a velha corrida armamentista com algoritmos.
O antídoto passa por três movimentos complementares. Primeiro, regulação internacional robusta: tratados que limitem o emprego de sistemas letais autônomos e imponham transparência. Segundo, auditoria pública de tecnologias sensíveis — verificar algoritmos, dados e fluxos de comando. Terceiro, um debate público que recoloque valores democráticos no centro: a tecnologia pode ser poderosa, mas não pode apagar a necessidade de deliberar sobre o uso legítimo da força.
Enquanto isso, a cultura popular continuará projetando seus medos em narrativas cinematográficas — o espelho do nosso tempo que nos ajuda a entender por que, quando pensamos em robótica e IA, pensamos também em responsabilidade e memória. Não é apenas sobre máquinas: é sobre quem controla o roteiro e que humanidade queremos preservar no cenário de transformação.
Chiara Lombardi — Espresso Italia