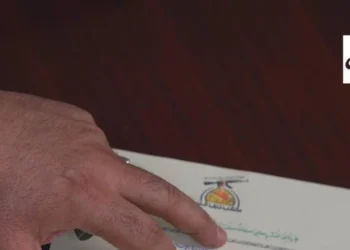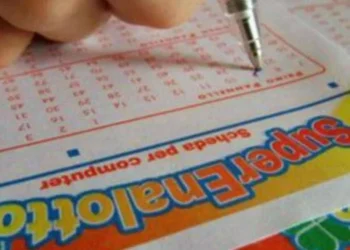Por Chiara Lombardi — Em 27 de janeiro, ao celebrarmos o Dia da memória, somos convidados a acender velas e a recitar datas. Mas será que praticamos realmente a memória ou apenas encenamos um rito coletivo? A reflexão do filósofo Diego Fusaro, publicada originalmente em italiano, funciona para mim como um espelho do nosso tempo: a lembrança pública acontece, mas a memória histórica — aquela capaz de modular escolhas políticas e morais — parece ausente.
Fusaro vai direto ao ponto: se a memória tivesse desempenhado seu papel, as grandes atrocidades do passado não teriam lugar para ressurgir. Hoje, segundo ele, o que ocorre em Gaza configura — nas suas palavras — um verdadeiro genocídio. Não é uma acusação leve; é um diagnóstico que nos obriga a perguntar: o que aprendemos, de fato, com as narrativas do sofrimento coletivo?
Uma das cenas que o autor evoca é exemplar do chamado reframe histórico: a liberação de Auschwitz. A lembrança oficial, muitas vezes moldada por uma indústria cultural que poderia ser chamada de hollywoodiana, tende a celebrar os Estados Unidos como o herói exclusivo da libertação europeia. Mas o fato histórico é outro: os campos foram libertados pelos soviéticos. Essa reescrita tem consequências simbólicas — e estratégicas — porque transforma memória em argumento político. Ao colorela com um brilho unilateral, legitima-se uma narrativa que sustenta a permanência de bases americanas na Europa e uma suposta tutela eterna oferecida pelos EUA.
Há ainda a inversão de papéis na semiótica internacional: a Rússia é, hoje, por alguns discursos, retratada como um novo estado nazista. Essa simplificação não só distorce o passado como instrumentaliza traumas coletivos para fins presentes. Ou seja, celebramos a memória enquanto a manipulamos para justificar interesses geopolíticos — uma espécie de roteiro oculto que transforma lembrança em munição política.
Como observadora cultural, vejo nessa sequência uma narrativa falha: a memória deixou de ser uma lição ética capaz de impedir a repetição das feridas históricas e virou adereço retórico. O verdadeiro risco é que, ao esquecer coletivamente — ou ao lembrar mal —, deixamos que as mesmas estruturas de violência encontrem solo fértil para florescer novamente.
Portanto, neste Dia da memória, não basta renovar slogans e cerimônias. É preciso praticar a memória com rigor crítico: reconhecer factos, desconstruir narrativas interessadas e questionar o uso público do passado. Só assim poderemos transformar o eco cultural em escudo real contra o retorno das atrocidades. Esta é a proposta — e o desafio — de quem quer que a lembrança seja algo mais que cena num palco: que seja, de fato, uma lição viva.