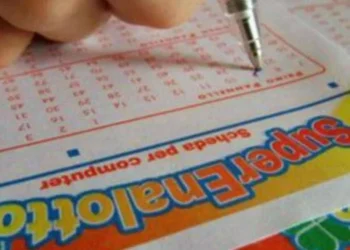Dia da Memória — 27 de janeiro volta a nos convocar para o exercício difícil de lembrar sem anestesiar o horror. Nesta data, a obra intitulada La Scomparsa di Josef Mengele, descrita por alguns como “mostruosamente bello”, reaparece no debate público como um espelho inquietante: por trás da forma artística, corre o roteiro oculto da história que recusa ser esquecida.
Josef Mengele não é apenas um nome nos catálogos do mal; é a personificação de uma máquina científica e burocrática que, em nome da pureza da raça, transformou crianças, mulheres, pessoas anãs e especialmente gêmeos em cobaias humanas. Em Auschwitz, seus experimentos e decisões clínicas — que se apresentavam como busca por conhecimento — foram, na verdade, instrumentos de tortura e destruição. A dimensão do seu crime não cabe apenas nos jornais: é uma ferida cultural e moral que define parte do século XX europeu.
A peça/documentário (a depender da forma escolhida pela produção) propõe um reframe da realidade: ao narrar a fuga, a ocultação e a retórica de inocência proclamada por Mengele, a obra expõe a ambiguidade perversa do negacionismo e da banalização do mal. Mesmo fugindo para a América do Sul e vivendo sob falsidade, Mengele jamais deixou de recusar a responsabilidade — declarava-se inocente, forçando a sociedade contemporânea a olhar para o que sobra quando a justiça falha: a memória coletiva e o relato das vítimas.
Como observadora do Zeitgeist, me interessa menos a anedota escabrosa e mais o que essa permanência do personagem revela sobre nós. Por que continuamos a nos fascinar por figuras que encenam o Mal como método? Por que a arte muitas vezes prefere o efeito estético da monstruosidade em vez de ampliar a voz das vítimas? Essa produção nos impele a deslocar o foco: não apenas o fugitivo e seus truques, mas os corpos que sofreram, as famílias desfeitas e a responsabilidade dos Estados europeus e internacionais em assegurar memória e reparação.
O resgate desses episódios tem uma função cívica: transformar recordação em vigilância. Recordar Mengele é lembrar que a ciência, descolada da ética, torna-se arma; que discursos de pureza racial brotam da mesma seiva de exclusão que ainda contamina discursos políticos contemporâneos. A obra funciona, assim, como um espelho do nosso tempo, revelando que o perigo não está somente nos monstruosos de ontem, mas nas formas sutis de desumanização que persistem.
Para além da fruição estética, esta peça/documentário exige ação: educação sobre o Holocausto, políticas públicas de memória e o enfrentamento de narrativas revisionistas. Assim, a lembrança não se esgota em cerimônias adiadas ao calendário; transforma-se em compromisso público — um pacto contra a repetição do inominável.
Ao terminar a sessão, fica aquela impressão cinematográfica tardia: a imagem persiste, deslocada, indelével. Se a arte é um espelho, que ele refleta verdadeiramente o rosto das vítimas, não o glamour da impunidade.
Chiara Lombardi — colunista de cultura pop, comportamento e impacto social da Espresso Italia