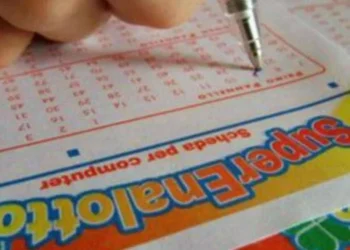Por Chiara Lombardi — Espresso Italia
Em Minneapolis, a intervenção federal conhecida como Operation Metro Surge desencadeou uma série de cenas que funcionam como um espelho do nosso tempo: táticas de polícia militarizada, imagens virais e o choque público que ressignifica eventos sob a luz da memória histórica. O episódio, promovido pela administração Trump e dirigido contra imigrantes irregulares, expôs sequences que evocam, em sua estética e brutalidade, ecos do passado autoritário — o roteiro oculto da violência estatal que a sociedade insiste em não enquadrar por completo.
7 de janeiro: o chefe da Border Patrol, Greg Bovino, foi fotografado em Minneapolis usando um sobretudo verde-oliva com ombreiras e botões dourados. O New York Times descreveu a peça como “um símbolo do conflito”, um uniforme que se tornou ícone visual da operação. Em meio a dezenas de agentes mascarados, o casaco de Bovino foi impossível de ignorar — e, diante da repercussão, foi removido.
8 de janeiro: circulou nas redes um vídeo de 40 segundos que prendeu a atenção de quem acompanha a cidade. Nele, um agente do ICE dispara a curta distância contra Renee Nicole Good, 37 anos, descrita por alguns como observadora legal ou ativista, enquanto ela estava ao volante do SUV. O registro mostra um agente apontando a arma e efetuando três disparos através do para-brisa e da janela dianteira. A imagem é crua e, como em um quadro de cinema político, força a audiência a confrontar a violência em plena luz do dia.
21 de janeiro: em Columbia Heights, subúrbio de Minneapolis, outro quadro perturbador ganhou as redes. Um menino de 5 anos, Liam Ramos, foi conduzido por um agente mascarado até a porta de sua casa e instruído a bater e pedir para entrar — procedimento usado para verificar a presença de outras pessoas. Duas fotos se tornaram símbolos da humilhação: Liam com um gorro azul com orelhas de coelho, escoltado por um agente em traje camuflado; e o mesmo menino sendo segurado pelo zíper da mochila do Homem-Aranha enquanto o pai era algemado.
24 de janeiro: durante um protesto, o enfermeiro Alex Pretti, 37 anos, foi morto. Testemunhas relatam que Pretti foi cercado, derrubado ao chão e que, em seguida, foram ouvidos dez disparos próximos. A versão oficial afirmou que se tratava de um homem armado; reportagens e relatos testemunhais, bem como apurações jornalísticas como as do New York Times, indicaram que Pretti tinha apenas um celular nas mãos.
Essas imagens — o sobretudo simbólico, os tiros contra um carro, a criança escoltada e a morte durante um protesto — não são apenas fotogramas de um conflito local. Em 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, elas reforçam o significado do Dia da Memória ao provocar uma reflexão sobre como a memória coletiva reage frente às novas formas de intimidação estatal. A semiótica do viral transforma cenas em argumentos; o espetáculo da força torna-se narrativa com repercussões políticas e morais.
No Anteo, em Milão, foi exibido o documentário de Simone Manetti, apresentado com a presença da família e da advogada Ballerini — um reconhecimento que também recebeu prêmio “por sua batalha por justiça e liberdade”. A projeção funciona como um contraponto cultural: a imagem filmada como testemunho e a imagem televisiva como dispositivo que molda empatia e indignação. É aí que reside o eco cultural: o cinema e o jornalismo atuam como espelhos e lentes, ajudando a construir o entendimento público sobre o que testemunhamos.
Como analista cultural, proponho que olhemos além do instante viral. Perguntemos qual o roteiro que essas imagens desejam escrever na consciência coletiva. A militarização estética das forças de segurança, a instrumentalização do medo e a exposição das violências privadas em espaços públicos compõem um reframe da realidade democrática — e cabe à sociedade decifrar se estamos apenas assistindo ou se estamos prontos para intervir.