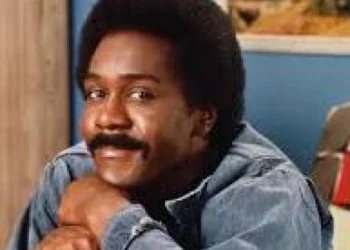Por Chiara Lombardi — A estrada que unia Chicago a Santa Monica completa um século e, como um filme de longa duração, continua a reverberar no nosso imaginário. Inaugurada oficialmente em 30 de abril de 1926, a Route 66 atravessou o país em 2.448 milhas (3.940 km), ligando o centro industrial do Illinois ao pacífico da Califórnia, cruzando Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico e Arizona. Mais do que uma via de trânsito, tornou-se um espelho do nosso tempo — o roteiro oculto da sociedade americana.
No cinema, na literatura e na memória coletiva, a Route 66 é um arquétipo. River Phoenix, na cena final de My Own Private Idaho, recita uma espécie de ode a quem ama estradas: “Sou um apreciador de estradas. Passei a vida provando estradas. Esta estrada nunca vai acabar. Provavelmente dá a volta no mundo.” A frase funciona como um refrão: não é apenas a paisagem física que a torna eterna, é a carga simbólica que ela carrega — como uma fita cinematográfica que recorta paisagens e histórias.
Quando foi inaugurada, apenas 800 milhas da Route 66 estavam pavimentadas; o restante era pó, cascalho, ladrilhos ou tábuas de madeira. Só em 1937 a via foi pavimentada em sua totalidade, tornando-se a primeira rodovia nacional completamente asfaltada. Não foi a mais antiga nem a mais longa do país — a Route 20 detém esse título —, nem superou estradas como a U.S. Highway 40 ou a Lincoln Highway em prestígio técnico. Mas era o trajeto mais rápido e perene entre o Midwest e a costa do Pacífico, e por isso entrou no imaginário como símbolo de passagem.
O escritor John Steinbeck batizou a estrada de “Mother Road” em The Grapes of Wrath (Furore), transformando-a no vaso comunicante entre desespero e esperança. Para os migrantes da Grande Depressão e as famílias expulsas pelo Dust Bowl, a 66 foi a rota da sobrevivência e da promessa. Steinbeck descreve-a como “a principal estrada migratória”, um fio de asfalto que serpenteia “do Mississippi a Bakersfield”, subindo e descendo por terras vermelhas e cinzentas — imagens que se imprimiram na literatura e no cinema como símbolos de exílio e redenção.
Ao longo do século, a Route 66 foi devorada por novas autoestradas, fragmentada e em muitos trechos abandonada. Ainda assim, trechos originais, motéis de néon, postos de gasolina vintage e diners resistem como cenários em miniatura, prontos para fotogramas e documentários. A estrada tornou-se museu a céu aberto: um percurso que funciona como uma câmera lenta sobre as transformações sociais e econômicas dos Estados Unidos. É aí que a estrada revela seu duplo papel — é infraestrutura e também narrativa, geografia e mito.
Hoje, no centenário, a celebração da Route 66 não é apenas uma festa de nostalgia; é um convite a ler a paisagem. É procurar entender o que essas faixas de asfalto nos dizem sobre mobilidade, sobre a promessa americana e sobre como o cinema e a literatura ajudam a codificar sonhos coletivos. Em tempos em que o GPS nos oferece rotas otimizadas e a velocidade parece o objetivo último, a 66 nos recorda outra coisa: a viagem como ato de memória, a estrada como espelho do nosso tempo. E, como disse River Phoenix, é uma estrada que continua a contar de nós — e por isso, de certa maneira, nunca acaba.