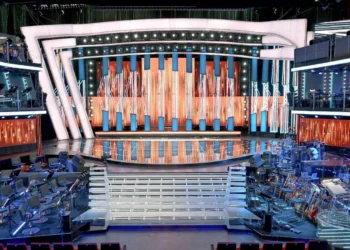Por trás da decisão surpreendente de Andrea Pucci — nome artístico de Andrea Baccan — de renunciar ao papel de coapresentador da terceira noite do Festival de Sanremo há mais do que um gesto de retirada: há o reflexo de um tempo em que o riso se choca com a sensibilidade política. Depois de 48 horas de polêmica, o comediante anunciou, por meio de um comunicado longo e decidido, que não subiria ao palco do Ariston, alegando que simplesmente não existiam as condições para exercer seu ofício — isto é, fazer rir.
O anúncio pegou de surpresa a Rai e, ao que parece, também Carlo Conti, que o havia convidado para a condução. Não houve imagens posadas nem tentativa de dramatizar a saída: o comunicado veio seco e direto, com o artista afirmando que sua escolha foi autônoma. As pressões externas — inclusive o apelo do presidente do Senado para que reconsiderasse — não teriam gerado pedidos para que voltasse atrás. Simplesmente, Pucci concluiu que o clima estava impróprio para o humor que pratica.
A leitura custo-benefício falou mais alto. O comediante, que acumulou trajetórias diversas — de ex-tabacaria a ex-joalheiro e animador turístico — antes de se firmar como artista, já sabia o que significa polarizar. Ainda assim, declarou-se surpreendido com a intensidade do estrondo. Sanremo, afinal, é muito mais do que um palco musical: é um barômetro cultural. E o que vimos nas últimas horas foi um termômetro disparado entre expectativa de espetáculo e contestações ideológicas.
O histórico de reações a humoristas no Festival não ajuda a amenizar o cenário. Houve recepções mornas, como a de Angelo Pintus em 2015; críticas, como no episódio de Angelo Duro em 2023; e até vaias contundentes, como as direcionadas a Maurizio Crozza em 2013. Em outras palavras, o palco do Festival carrega um peso simbólico que transforma cada piada em ato público e cada apresentador em interlocutor de uma narrativa coletiva.
Além disso, a trajetória pessoal de Pucci havia acumulado controvérsias. A atribuição do Ambrogino d’Oro em 2023 já provocara reações negativas: críticos consideraram incompatível premiar um artista cujo repertório inclui piadas rotuladas como sexistas, homofóbicas e de body shaming, inclusive dirigidas a figuras públicas como Elly Schlein e Rosy Bindi. Pucci, por sua vez, pediu desculpas em parte e manteve que refaria certas piadas. Autoproclamado “o único comediante de direita”, sua postura alimentou um debate maior sobre os limites do humor num cenário cultural polarizado.
O recuo, portanto, não parece ter sido apenas uma capitulação à pressão política — e nem tampouco uma simples covardia. Foi, mais literalmente, um cálculo: subir ao Ariston em meio a uma tempestade midiática poderia transformar a performance em arena de conflito, em vez de palco para a comicidade. Pucci escolheu preservar a possibilidade de fazer rir num ambiente menos contaminado pelo ruído ideológico. Uma decisão que nos convida a pensar sobre o papel do comediante contemporâneo: artista, comentarista, provocador — ou tudo isso junto?
Como analista cultural, vejo nessa retirada um sinal de que o entretenimento já não circula de forma autônoma; é parte do “roteiro oculto da sociedade”. O episódio reafirma que eventos institucionais — especialmente aqueles com o status simbólico de Sanremo — funcionam como espelhos do nosso tempo, onde o riso pode iluminar e ferir simultaneamente. Resta saber se, em futuras edições, a dialética entre humor e responsabilidade terá se reconfigurado, ou se assistiremos ao mesmo embate em outro figurino.
Enquanto isso, a relação entre Pucci e Conti parecia consolidada por participações discretas e sem traumas: o convidado já figurara na Tale e Quale, nos Tim Music Awards e em I migliori anni. Desta vez, porém, Sanremo mostrou sua capacidade de transformar um gesto aparentemente individual em acontecimento político-cultural. E Pucci, no palco que escolheu não pisar, tornou-se novamente — e de forma deliberada — o espelho de uma discussão maior.