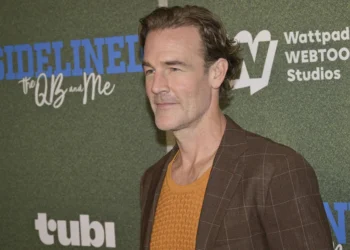Por Chiara Lombardi — Em meio à reverberação dos aniversários que marcam a vida pública de um artista, Jacopo Fo parte para um exercício de memória que é também um pequeno ensaio sobre como celebramos e retemos figuras que se tornaram espelhos do nosso tempo. Às vésperas do centenário do nascimento e dos dez anos da morte de Dario Fo, filho e guardião de lembranças conta episódios íntimos que revelam o caráter quase cinematográfico do fim de uma vida dedicada ao palco, à escrita e à provocação.
Para Jacopo, os números — 100 anos e 10 anos — são «datas inquestionáveis, mas perturbadoras». Nascido em Sangiano a 24 de março de 1926 e falecido em Milão a 13 de outubro de 2016, Dario Fo permanece, segundo o filho, surpreendentemente jovem na memória: «Para mim foi ontem», afirma Jacopo, recusando o gesto ordinário de encaixar o ícone em calendários.
Os eventos organizados pela Fundação Fo‑Rame, presidida por sua neta Mattea Fo — com o apoio do marido, Stefano Bertea — integram o ambicioso projeto “Cento anni per cento Paesi”. Jacopo e Mattea participarão de programas especiais: dia 23 de março em um programa da Raitre e, no dia 24, data do nascimento de Dario, uma noite no teatro Sistina reunirá familiares e amigos, de Jaele a nomes como Ambra Angiolini, Carlin Petrini, Moni Ovadia, Anna Foglietta, Lodo Guenzi, Pirovano, Strabioli, Travaglio e Celestini.
Na lembrança de Jacopo, o final da vida de seu pai tem a textura de um roteiro improvável. Após uma última visita, o pneumologista teria dito que restavam «poucos dias». Contra a previsão, Fo resistiu quatro meses — e viveu-os intensamente. Mergulhou no projeto Darwin, escreveu mais um livro, pintou e voltou aos palcos. Em 1º de agosto, em Roma, voltou a apresentar-se com o seu Mistero Buffo por duas horas seguidas: «Liguei para o médico e disse: ele está a cantar diante de 3.000 pessoas. „Sou ateu — me respondeu — mas agora acredito em milagres”». Este episódio funciona como uma imagem emblemática: o artista que desafia o tempo e recusa o desaparecimento ordeiro.
O desfecho, porém, trouxe consigo uma peça de surrealismo íntimo. Hospitalizado e submetido a analgésicos, Fo começou a ter alucinações — via catedrais, do Duomo de Módena ao de Milão, e via Jacopo em formas mutantes, ora estátua de mármore, ora um emaranhado de cabelos. Uma parede do quarto parecia-lhe coberta por faixas de cores que ele desejava pintar. O primário autorizou; os assistentes iam chegar com as tintas pela manhã, mas Dario partiu na noite anterior. É uma imagem que soa como uma última cena terna e trágica: o impulso criativo interrompido antes do gesto final.
As visões e as premonições — quase já parte do folclore familiar — remontam à juventude. A avó Pina guardava a memória de uma cigana que previu a fama universal do seu filho. Dario, então com 17 anos, teria sido apontado como futuro vencedor do Nobel. Quando, em 1997, o prêmio veio realmente, a família recebeu a notícia sem espanto: a profecia, transformada em lenda doméstica, tinha encontrado sua realização factual.
O relato de Jacopo não é apenas uma crônica de acontecimentos; é um convite a refletir sobre a dramaturgia da memória pública. O centenário é, como ele sugere, uma arma de dois gumes: motor de celebração e de reavaliação crítica. Enquanto a Fundação Fo‑Rame replaneja homenagens pelo mundo, sentimos novamente a presença daquele que transformou o riso em ferramenta crítica e o palco em lugar de disputa. Em seu último salto — investigando as origens, pintando, cantando — Dario Fo ofereceu, mais uma vez, o seu contracanto ao cenário da transformação.
Para quem conviveu com ele, as datas podem até tentar domesticar o tempo; mas a memória insiste em permanecer viva no gesto, na palavra e na obra. E é nisso que reside o verdadeiro legado: não num número no calendário, mas no eco cultural que continua a ressoar.