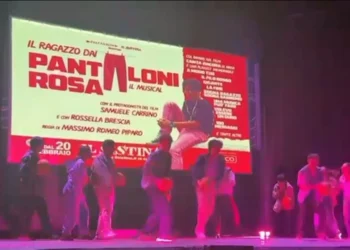Por Chiara Lombardi — Em uma das passagens mais insólitas e ao mesmo tempo emblemáticas do espetáculo esportivo-cultural dos anos 90, Bebo Storti, na época presença constante do universo televisivo com a Gialappa’s Band e os personagens de Mai Dire Gol, relembra sua participação nos Mundiais de Esqui de 1996, em Sierra Nevada. Ele desfilou representando o Senegal, ao lado do esquiador Lamine Guèye, vestindo-se como seu famoso personagem Alfio Muschio — um leghista que, pela narrativa cômica, vira negro por obra de um xamã. Naquela ocasião, a caracterização incluiu o que hoje se reconhece como blackface.
“Foi uma ação pensada para lançar um messaggio contra o racismo”, conta Storti. O episódio aconteceu num mundo pré‑redes sociais e pré‑vídeos virais, mas não por isso deixou de ser um eco cultural relevante: ao desfilar na cerimônia de abertura, sob o olhar do rei Juan Carlos, o grupo provocou aplausos e, ao mesmo tempo, um espelho sobre estereótipos e performance identitária.
Storti, hoje com 69 anos, faz uma leitura contemporânea desse acontecimento. Perguntado se Alfio Muschio — o personagem — estaria à vontade numa reedição hoje, ele responde sem rodeios: “Não, não creio. Alfio Muschio teria medo do ICE e do vice‑presidente Vance. Era um personagem que buscava uma reviravolta moral: um leghista da primeira hora que, amaldiçoado por um xamã, experencia o que antes fazia aos outros. Era uma tentativa de inverter o olhar e provocar empatia. Hoje, diante da selvageria política e midiática que vemos, aquilo parece quase ingênuo.”
O projeto com Lamine Guèye e o produtor Sergio Pezzola tinha também um lado concreto: arrecadação e visibilidade. Storti lembra que grande parte dos recursos angariados serviu para sustentar pequenas sociedades esportivas no Senegal — um gesto prático que acompanhava a performatividade simbólica do desfile. “Era a única federação com um esquiador e, provavelmente, a única africana”, completa.
No vilarejo da competição, Storti era conhecido como “Pintado”, e seu crachá dizia “assistente xamã”. Entre as peripécias, ele recorda de treinar esquiadores italianos que considerava exibidos, usando o improvisado “método do badile” nas costas, e de uma encenação romântica com Isolde Kostner: com os pés amarrados aos esquis dela, desceram vinte metros para celebrar um namoro teatral — “só vinte, porque depois eu provavelmente teria morrido”, brinca.
Hoje, revisitar esse capítulo é também um exercício de semiótica do viral antes do viral: o episódio funciona como um pequeno roteiro oculto da sociedade dos anos 90, onde o espetáculo esportivo servia de palco para intervenções políticas e performáticas. A memória daquela cerimônia nos pede um reframe: entender intenções, reconhecer ofensas e avaliar o impacto. O que era sátira em 1996 reverbera de outra maneira em 2026, exigindo que olhemos para o passado com honestidade crítica.
Ao final, Storti sublinha o duplo caráter da experiência — teatral e solidário — e lembra que, apesar das polêmicas possíveis, a recepção no local foi calorosa: “Quando desfilamos, o rei de Espanha não sabia exatamente quem éramos, mas o público nos aplaudiu”. É uma imagem que fica: a cena de um artista e de um atleta africano caminhando juntos pela pista de abertura, como um espelho do nosso tempo e um pequeno gesto de gesto de resistência simbólica e material.