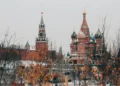Quando o feminismo histórico é engolido pela interseccionalidade: crítica à antologia de Rossella Ghigi
Funerais em 7 de janeiro em Saint-Tropez; herança milionária pode gerar conflito legal
Uma leitura crítica e ácida do panorama atual do movimento de mulheres abre a resenha sobre Femminismi. Un’antologia contemporanea, organizada por Rossella Ghigi (Einaudi, 2024, €25). O volume, que atinge cerca de 305 páginas, é descrito pela crítica como pesado e prolixo, mas interessa especialmente por um núcleo de aproximadamente oitenta páginas que, segundo o autor da crítica, explicita a degeneração do feminismo contemporâneo ao ser dominado pela interseccionalidade.
No texto que segue, a tese central é que o novo paradigma, qualificado como neo-feminismo ou pós-feminismo, perdeu de vista o objetivo universal que animou as correntes históricas: conquistar direitos e leis para todas as mulheres em sua condição de mulheres, sem graduar opressões ou hierarquizar vítimas. A organizadora do volume, professora de sociologia da Universidade de Bolonha, é colocada pelo crítico como epicentro de um movimento que multiplica categorias — gênero, negro, queer, pós-colonial — e acaba por transformar o debate em um catálogo acadêmico de identidades e subgrupos.
Segundo a resenha, o problema prático da hegemonia da interseccionalidade reside na hierarquização das vítimas: maior visibilidade para mulheres negras ou não caucasianas vindas de contextos terceiro-mundistas ou ex-colonizados; menor atenção ou até indiferença diante da situação de mulheres iranianas ou afegãs submetidas a regimes teocráticos; e, ainda, uma percepção seletiva de crimes como estupro e feminicídio quando cometidos por imigrantes contra mulheres locais. Essas observações são apresentadas como a leitura crítica do livro e do fenômeno cultural que ele representa.
Para situar a transformação, a resenha reconstrói o que foi o feminismo histórico: um movimento que produziu legislação e proteção universal às mulheres, sem subdivisões moralizantes. Referências fundacionais aparecem no texto: Olympe de Gouges, que em 1791 arriscou a guilhotina ao proclamar que “a mulher nasce livre”; Mary Wollstonecraft, defensora da igualdade educacional; Simone de Beauvoir, autora da célebre frase “não se nasce mulher: torna-se”, e pensadoras italianas como Carla Lonzi e a filósofa Luce Irigaray, cuja crítica incidia sobre a apropriação simbólica do corpo feminino — mulheres, no singular coletivo, e não fragmentadas por identidades tribais.
A crítica aponta que a obra de Ghigi, ao classificar e rotular os diversos feminismos — histórico, radical, diferencialista, negro, queer, pós-colonial, construcionista, pós-estruturalista — acaba por confirmar a tese que pretende analisar: a emergência de um paradigma interseccional que “come” e subsume os demais. A palavra interseccionalidade, observa o revisor, passou a ser evocada com a mesma facilidade com que outrora se citava Aristóteles, tornando-se um mantra e, por vezes, um instrumento de exclusão dentro do próprio campo feminista.
O tom da resenha é jornalístico e provocador: não se trata apenas de esmiuçar teorias acadêmicas, mas de questionar as consequências sociais dessa migração de foco. Se o feminismo histórico buscou universalidade e coesão política para conquistar direitos civis e sociais, a nova configuração marcada pela ênfase em identidades múltiplas corre o risco de fragmentar solidariedades e de criar hierarquias de sofrimento que, na avaliação do crítico, podem tornar a luta menos eficaz para avanços legislativos e proteção de todas as mulheres.
Ao final, a crítica não nega a complexidade contemporânea nem a necessidade de reconhecer as especificidades das opressões, mas reclama uma recuperação do horizonte universalista que permitiu conquistas concretas no passado. Em suma, trata-se de um chamado à reflexão: como conciliar o reconhecimento das diferenças com a construção de uma agenda de direitos que proteja todas as mulheres, sem deixar que o paradigma identitário desautorize ou relativize vítimas reais?