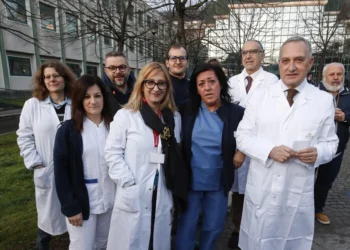Por Chiara Lombardi — Em um gesto que parecia saído de um roteiro histórico, a Corte de Cassação italiana confirmou em 29 de janeiro de 1976 a condenação por obscenidade do filme Ultimo tango a Parigi, decretando a destruição de todas as cópias e impondo penas ao criador. A decisão, meio século atrás, não foi apenas um veredito jurídico: foi um espelho do nosso tempo, uma cena simbólica onde o Estado tentou incinerar não só um filme, mas um debate cultural inteiro.
Bernardo Bertolucci foi condenado a quatro meses de prisão por ofensa ao pudor e obrigado a pagar uma multa de cem mil liras. Na esfera pública, imaginou-se que a sua culpa residia também em uma dimensão moral mais íntima: acusou-se que o diretor havia, de alguma forma, contribuído para a violência praticada por Marlon Brando sobre Maria Schneider, então jovem — uma narrativa que só ganharia outras contorções com o passar dos anos. Em resposta, Bertolucci escreveu uma carta aberta que circulou em todos os jornais: «Senhores magistrados moralizadores, gostaria de saber em qual forno crematório será queimado o negativo de ‘Ultimo tango’…», um gesto retórico que transformou a sentença num episódio político-cultural.
O filme, lançado em dezembro de 1972, mostra os encontros e os amplexos entre Paul, um viúvo interpretado por Marlon Brando, e Jeanne, vivida por Maria Schneider. A narrativa se desenrola em torno de um apartamento vazio que vira refúgio e laboratório de anonimato e desejo, uma espécie de set onde duas identidades se encontram sem nunca se revelar por completo. As cenas explícitas, em particular a sequência do chamado ‘manteiga’ — em que se insinua um ato de sodomia com um dedo untado —, incendiariam debates sobre estético, consentimento e limites do cinema.
Curiosamente, enquanto críticos e plateias estrangeiras celebravam o trabalho — em Nova York o filme foi qualificado como «uma pedra milenar na história do cinema» —, em solo italiano ele enfrentava a censura. A película foi sequestrada por ordem administrativa em 31 de dezembro de 1972, sob a acusação de um «panssexualismo exacerbado e sem propósito». Houve um primeiro /desequestro/ e absolvição em fevereiro de 1973, que atraíram milhões aos cinemas; depois, em 1974, a Corte de Apelação de Bolonha voltou a condenar a obra. A sucessão de decisões, apelos e reviravoltas durou anos e transformou a própria circulação do filme em um fenômeno público.
É importante lembrar que, apesar das reinvindicações legais e morais, Ultimo tango a Parigi permaneceu entre os filmes de autor mais vistos do período, uma evidência de que o público muitas vezes reescreve o juízo oficial. A tentativa de queimar cópias e silenciar vozes reverberava, na interpretação cultural, como um ato de Inquisição moderna: não apenas para punir, mas para disciplinar o imaginário coletivo.
Como analista do entretenimento que busca os motivos por trás do fenômeno, percebo nesse episódio um roteiro oculto da sociedade: o confronto entre uma arte que explora os limites do desejo e instituições que, por medo ou por princípio, tentam definir onde termina o público e começa o íntimo. O caso Bertolucci/Brando/Schneider é, portanto, mais do que um escândalo; é um capítulo sobre memória cultural, responsabilidade artística e a semiótica do viral antes mesmo da era digital.
Hoje, cinquenta anos após a sentença da Cassação, o filme permanece como peça de estudo e debate. Serve como espelho do nosso tempo porque nos força a perguntar: que ideias queremos extinguir quando apagamos uma obra — e que ecos essa queima cria na memória coletiva? A legislação mudou, a crítica evoluiu, e a história do filme continua a ensinar que o cinema não é apenas entretenimento: é um campo de batalha simbólico onde se discutem ética, poder e memória.