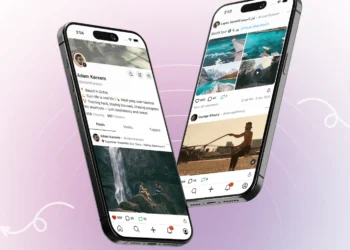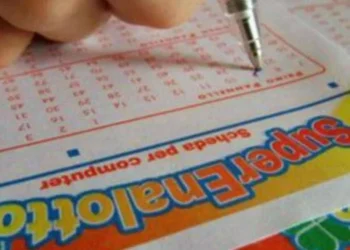No cenário contemporâneo, a velha operação do jornalismo — conferir um dado, checar uma fonte — foi convertida num instrumento de poder. O ensaio de Pietro Cattana, publicado em 27 de janeiro de 2026, funciona como um espelho inquietante: o que se anuncia como fact‑checking muitas vezes cumpre o papel de cortina de fumaça para práticas de controle. Traduzo e reflito aqui sobre esse roteiro oculto da sociedade, porque o entretenimento e a informação nunca estiveram tão entrelaçados com arquitetura de poder.
Vivemos a era do neo‑tribalismo digital, uma guerra de tribos em alta definição onde cada grupo constrói sua própria narrativa e os conflitos não respeitam mais as fronteiras do globalismo. A novidade é que, nessa dramaturgia, a veracidade não é apenas um atributo dos enunciados: passa a ser concedida ou retirada por operadores que detêm visibilidade e mecanismos de visibilidade. Em outras palavras, o que é verdade pode depender de quem tem o controle dos sinais.
O dispositivo é elegante: em vez de admitir uma censura direta, a máquina se veste de objetividade. Surge a certificação que promete “eliminação do falso” em nome do público — um paternalismo tecnológico que supõe uma plateia incapaz de julgar sozinha. Assim, a censura mais eficaz é a que se disfarça de proteção. Enquanto o país enfrenta crises reais — econômicas, geopolíticas, sociais —, a prioridade comunicacional parece ser a limpeza semântica do espaço público, uma operação que lembra a direção de arte de um filme distópico, onde o décor esconde o incêndio real.
A seguir, o mecanismo: um selo vermelho de alerta, algoritmos que silenciariam vozes discordantes e especialistas mobilizados para selar o veredicto. O erudito que deveria ser imparcial converte‑se em ator de um tribunal mediático cujo banco dos réus é o próprio feed. É a kratoepistemologia — termo sugestivo para descrever uma epistemologia do poder; um saber imposto a partir da autoridade que decide o que conta como fato.
Essa lógica traz consequências práticas e simbólicas. Primeiro, cria‑se uma figura quase teológica do verificadora: um agente dotado de visão total, capaz de alcançar o “fato em si”. É um deslocamento perigoso da crítica democrática: em vez de um debate público entre perspectivas, teríamos um árbitro supostamente neutro. Segundo, há um efeito performativo: rotular uma opinião como falsa não apenas informa, mas sanciona, marginaliza e expõe ao linchamento público. O algoritmo transforma a tela numa praça da cidade antiga, só que a sentença é emitida em tempos reais.
Importante ressaltar: a resistência a esse movimento não significa abdicar de checagens responsáveis. Significa, isso sim, defender processos transparentes, pluralidade de árbitros e a crítica das instituições que operam esses selos. A melhor verificação é aquela que abre os procedimentos — fontes, metodologia, conflitos de interesse — e que admite controvérsia como parte do conhecimento social.
Em última instância, vivemos um conflito simbólico que é também um conflito de poder. A batalha pelo que será reconhecido como verdade é parte do roteiro mais amplo de quem decide as condições de vida: escolhas econômicas, direções geopolíticas, prioridades culturais. O desafio é perceber o fact‑checking não como um fim moralizante, mas como um campo de disputa onde se jogam autoridade, memória e identidade.
Como observadora cultural, proponho uma leitura crítica e cinematográfica desse fenômeno: enxergar a kratoepistemologia como a direção de fotografia de uma cena social — capaz de iluminar seletivamente, ocultar sombras, e orientar o olhar coletivo. É hora de perguntar não apenas se algo é verdadeiro, mas quem lucra ao decidir que é.