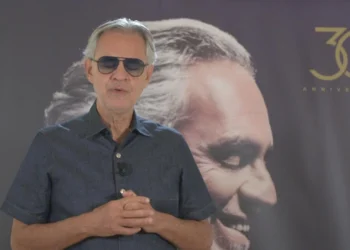A presença do Ghali na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Milano–Cortina, marcada para 6 de fevereiro, abriu um debate que ultrapassa o espetáculo e se instala no terreno do político e do simbólico. O rapper milanês, de origens tunisinas, virou alvo de críticas por suas posições públicas sobre a Palestina — sobretudo desde a sua intervenção no Festival de Sanremo de 2024, quando denunciou o que chamou de genocídio em Gaza — mesmo sem que ele tenha até agora feito qualquer declaração sobre o evento olímpico.
Quem acendeu a faísca foi o ministro dos Esportes e Juventude, Andrea Abodi, ao afirmar que a estrutura da cerimônia está “centrada no respeito” e que isso reduziria riscos de interpretações livres. Nas suas palavras: a seleção de artistas e de performances estará alinhada a um “indirecionamento” de caráter ideal, cultural e ético. Abodi acrescentou uma espécie de garantia institucional: um país, segundo ele, precisa saber suportar o choque de um artista cujas posições não se compartilham, desde que esse pensamento não seja expressado naquele palco.
As observações do ministro foram lidas como uma forma de contenção — e viraram munição política. A Lega classificou Ghali como um “odiador de Israel e do centro-direita”, acusando-o de condutas “imbarazzanti e volgari” e reclamando que a Itália e os Jogos merecem um artista, não um “fanático proPal”. Em tom institucional, Noemi Di Segni, presidente da União das Comunidades Judaicas Italianas, declarou esperar que Ghali tenha recebido orientações claras sobre o papel que deverá cumprir no contexto da cerimônia.
Do lado oposto, vozes do Partido Democrático e do Movimento 5 Stelle reagiram com veemência, interpretando os comentários do governo como uma tentativa de censura preventiva. Irene Manzi, líder do PD na comissão de Cultura da Câmara, falou em ataques inaceitáveis e pediu que o ministro Giuli tome uma posição para distanciar o governo dessas reações. O argumento central é que a arte é livre e não pode ser instrumentalizada para fins ideológicos: qualquer forma de intimidação a um artista é considerada inaceitável em uma sociedade democrática. Parlamentares do M5s reforçaram a crítica, avisando que decidir antecipadamente o que será ou não dito no palco se aproxima perigosamente de um controle prévio.
No centro deste embate está, paradoxalmente, o silêncio do próprio Ghali. A ausência de uma manifestação pública do artista transformou sua figura em um espelho — ou melhor, em um projector — onde diferentes atores veem e interpretam o que lhes convém. É um episódio que revela o roteiro oculto da sociedade contemporânea: quando a cultura entra em cena, a política procura moldar a narrativa; quando a memória recente e os conflitos transnacionais se cruzam, o espetáculo deixa de ser apenas espetáculo.
Como observadora do tempo presente e da semiótica do viral, interpreto essa controvérsia como um sinal de nosso momento: a cerimônia olímpica, projetada para celebrar união e excelência, torna-se um palimpsesto de tensões identitárias e geopolíticas. Resta saber se os organizadores irão transformar o palco em uma arena de compromisso institucional ou em um lugar de tolerância para a pluralidade artística — e quanto desse conflito será sintetizado na narrativa pública até 6 de fevereiro.
Enquanto isso, a Itália assiste ao embate entre a necessidade de salvaguardar a cerimônia e os princípios de liberdade de expressão. O caso Ghali confirma que, mesmo em grandes eventos culturais, o que está em jogo é sempre mais do que um número musical: é o eco cultural de uma sociedade que tenta negociar memória, responsabilidade e espetáculo.