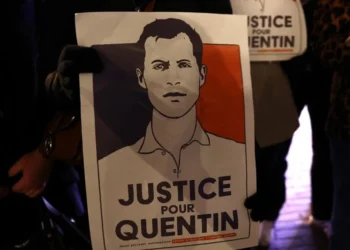Na revisão de Mereghetti, Divine Comedy de Ali Asgari conquista um voto 7: um filme que alia leveza e denúncia para mapear as contradições de um regime que vive de rituais e proibições, mas onde ninguém, no fim, segue as regras.
Para quem acompanha a trajetória do cinema iraniano contemporâneo, terminar “no inferno” por se recusar a se curvar à censura não é uma metáfora vazia: é um risco real. Asgari conhece isso na pele. Seu filme anterior, Kafka a Teerã, rendeu-lhe oito meses de inatividade e deixou sua atriz — e sobrinа — Sadaf Asgari proibida de voltar a atuar. É desse episódio que nasce o impulso narrativo de Divine Comedy: recuperar um filme da invisibilidade forçada e tentar tirá-lo do purgatório até alcançar o desejo — quase utópico — da liberdade de exibição.
Com uma alusão não casual ao poema dantesco, Asgari constrói uma cantiga cinematográfica que prefere a ironia à tragédia explícita. O registo é leve, sarcástico, por vezes deliciosamente absurdo; e é justamente nessa tonalidade que o filme encontra seu poder crítico, mais eficaz por não se fazer apenas de puro lamento. O protagonista é um cineasta — interpretado por Bahram Ark, que, na escolha do diretor, aceita fazer de si mesmo um espelho do autor perseguido — e o enredo acompanha sua tentativa de obter a autorização para uma projeção pública.
Uma das sequências iniciais descreve o embate entre o cineasta e um funcionário estatal cuja presença é apenas vocal, fora de campo. A câmera fixa o rosto do diretor, enquanto a voz do interlocutor, gentil e inflexível, alterna entre bajulação, conselhos e ameaças: “não só se fará a projeção… se só pensar em fazê-la, nós saberemos”. A cena tem algo do humor seco de Woody Allen, transplantado para um cenário onde a formalidade se converte em instrumento de opressão.
Perdido no primeiro round, o protagonista não desiste. Em uma Vespa rosa, conduzido pela produtora Sadaf — novamente interpretada por Sadaf Asgari, que revela sem rodeios a ausência do véu e um azul nos cabelos — parte em missão pela cidade. As peripécias urbanas vão desvelando, com graça irônica, o cotidiano das contradições: regras oficiais que existem apenas no papel e práticas que todos conhecem, mas que ninguém admite.
O filme expõe, com precisão quase documental, as hipocrisias e ambigüidades de um regime hiper-burocrático e ultrafomal. Mas o que faz Divine Comedy se destacar é a capacidade de transformar essa denúncia em uma fábula humana, onde o riso serve como lâmina para cortar o absurdo. Não é só cinema de resistência; é uma reflexão sobre a visibilidade e a memória — o roteiro oculto da sociedade que se recusa a desaparecer.
Se o filme passa por um longo purgatório narrativo antes de alcançar sua ideia de “paraíso” — a possibilidade efetiva de projeção —, é justamente nessa travessia que Asgari mostra sua maturidade de cineasta: sabe quando ironizar, quando mostrar o doloroso e quando permitir que a esperança permaneça, mesmo que tímida. O voto 7 de Mereghetti reconhece essa ambivalência fecunda: um filme que pede para ser visto e, sobretudo, pensado.