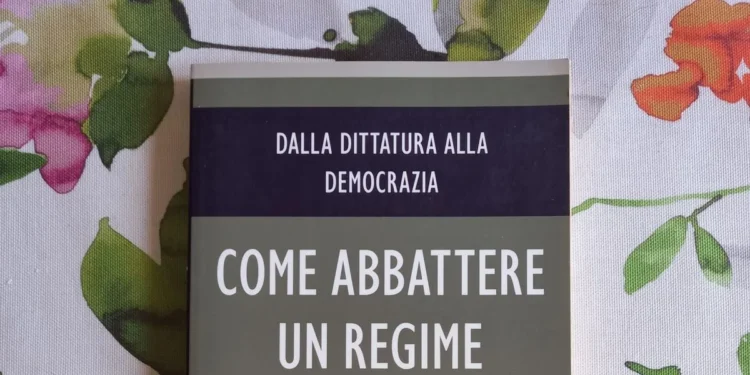Por Chiara Lombardi — Análise cultural
Raramente escrevo resenhas. Quando o faço, é porque um livro abre uma janela inesperada sobre o nosso tempo — ou porque exige ser desmontado. Foi o segundo caso com Como derrubar um regime, de Gene Sharp, obra que o crítico Giulietto Chiesa recebeu com irritação notável. Ele não só rejeita o conteúdo: acusa o autor de ser, intelectual e ideologicamente, um produto da Matrix contemporânea, incapaz de ver os limites do próprio pensamento — um protagonista do Truman Show sem chance de redenção.
Por que, então, vale a pena falar sobre um livro que incomoda tanto? Porque o verdadeiro interesse de Chiesa não está na estética textual, mas no contexto que a obra revela: o mapa das estratégias e táticas que hoje produzem a mudança política — e que, paradoxalmente, são muitas vezes fabricadas pelo próprio Poder. É uma leitura essencial para quem ainda pensa em revolução com as categorias do século XIX ou XX: quem imagina que as transformações coletivas sejam produto exclusivo de massas espontâneas, partidos ou «sovietes», corre o risco de interpretar mal o que acontece nas ruas e nas telas.
Chiesa propõe uma provocação desconfortável: nas novas configurações, as revoluções são frequentemente feitas pelo Poder — não pelos revolucionários mitológicos do passado. Os aparelhos técnicos, as redes de comunicação, as plataformas e os algoritmos se convertem em instrumentos para encantar e mobilizar milhões de jovens com narrativas altamente projetadas. Assim, a tecnologia deixa de ser mero canal e torna-se um cenário de transformação, uma lâmina afiada usada tanto por insurgentes quanto por quem deseja gerenciar a insurgência.
Algumas observações práticas se impõem. Primeiro: os conceitos clássicos de luta de classes, partido e vanguarda não desaparecem, mas perdem a exclusividade explicativa. Segundo: os centros da sovversão moderna — think tanks, ONGs, laboratórios de mídia, empresas de comunicação e departamentos de estratégia — atuam com profissionalismo quase militar. O Poder não é amador; é um ofício que opera com ferocidade proporcional à sua dimensão. E age, antes de tudo, para sua própria sobrevivência.
Por fim, Chiesa chama a atenção para a miopia intelectual de quem projeta sobre os cidadãos a própria visão do mundo. Ao analisar as ferramentas de mudança política, muitos pensadores continuam a subestimar o papel da tecnologia como catalisador e mediador. É aqui que a crítica de Chiesa encontra um ponto de diálogo com a análise cultural: entender a revolução como espetáculo, como reframe da realidade, é compreender a semiótica do viral e o roteiro oculto das mobilizações contemporâneas.
Não se trata de uma condenação simplista das tecnologias ou daquilo que Gene Sharp propõe sobre ação não violenta. Trata-se, antes, de um alerta: sem um esforço crítico e histórico para mapear quem detém os instrumentos da narrativa, ficamos à mercê de cenários manipulados. A batalha pelo sentido — mais que pela ocupação física de praças — define hoje a política como espetáculo e sustenta, em muitos casos, a própria reprodução do Poder.
Em tempos em que a juventude é frequentemente o público e o alvo de campanhas emocionais e digitais, entender como se fabrica o encantamento é um exercício civilizatório. Ler (e criticar) livros como o de Sharp é, portanto, menos um passatempo acadêmico e mais uma necessidade: adentrar o backstage do nosso tempo, para ver o projeto que orienta as luzes do palco onde todos nós, às vezes, sem perceber, desempenhamos nossos papéis.