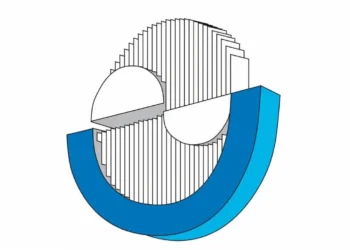Hoje, 10 de janeiro, se completam dez anos desde a morte de David Bowie, o artista que virou espelho e roteiro do nosso tempo. Morreu em 2016, aos 69 anos, e deixou uma obra que transcende gerações — não apenas como entretenimento, mas como um mapa de transformações culturais.
Nascido David Robert Jones em Brixton, no sul de Londres, Bowie mostrou desde a infância uma inclinação artística fora do comum. Aos dez anos já cantava e dançava, fascinado pela música americana; aos quinze formou sua primeira banda, os Konrads, e, ao longo da vida, fundou diversas outras formações em busca constante de novos caminhos sonoros e visuais.
Se uma canção sintetiza sua inquietude pela reinvenção, é “Changes” (1971, do álbum Hunky Dory): “Changes… Turn and face the strange. I don’t want to be richer, I just want to be a different man”. Ali está o pacto de Bowie com a diferença — a necessidade de ser outra coisa, sempre.
Ao longo da carreira, ele se apresentou como dândi de terno branco, ícone andrógino, boneca de látex hipersexualizada, pirata de tapa-olho, viajante espacial e palhaço — papéis que eram parte de um disfarce e, ao mesmo tempo, janelas para entender a época. Chamado de camaleão e de “king of glam“, Bowie antecipou modas e reconfigurou a relação entre imagem e som.
A sua sobrevivência cultural está na música: uma sequência de discos e canções das décadas de 1970 e 1980 que ajudaram a desenhar a cena musical contemporânea — de “Starman” e “Ziggy Stardust” a “Heroes”, “Modern Love”, “China Girl” e “Under Pressure”. Colaborações com nomes tão diversos quanto Mick Jagger, John Lennon, Tina Turner, Bing Crosby, Lou Reed, Cher, Iggy Pop e Freddie Mercury mostram sua habilidade de atravessar estilos sem perder essência.
Foi essa versatilidade que lhe valeu o apelido de “Camaleonte”: capaz de mudar de pele sem traí-la. À vontade no pop, no rock, no punk, no soul e no glam, Bowie protagonizou voltas inesperadas — uma delas foi a passagem do pop ao hard rock quando formou a banda Tin Machine (1987–1992), escolha que exemplifica sua recusa ao conforto artístico.
Quem conviveu com ele nas eras do contracultura e do “flower power” lembra, com uma mistura de admiração e frieza, a lógica de quem buscava sempre o próximo palco. Dana Gillespie sintetiza essa atitude: quando Bowie conseguia o que queria de alguém, seguia adiante. Uma postura «use and discard» que, para ele, era preço de uma carreira dedicada à reinvenção.
Também houve gestos públicos que marcaram sua relação com o establishment: em 2003, recusou o cavalheirismo oferecido pela rainha Elizabeth II. “Não aceitaria jamais uma coisa dessas”, disse, explicando que não era aquilo pelo que trabalhou a vida toda.
Na noite de hoje, a Rai5 exibe Ziggy Stardust and The Spiders From Mars, um lembrete audiovisual de que a figura de David Bowie continua a funcionar como um reframe da realidade — um compêndio de signos que nos ajuda a ler não só a música, mas as tensões identitárias e estéticas do nosso tempo.